Isabel Waquil: A História da Arte tem uma dívida com as mulheres?1
Maria Helena Bernardes: Pois é, esta é uma pergunta com a qual nos deparamos seguidamente, pois encontramos referências insignificantes à participação feminina na história da arte anterior ao século XX, no âmbito das sociedades vinculadas ao modo de vida europeu ocidental. Só começa a se produzir alguma visibilidade das mulheres que circulam no ambiente artístico a partir das primeiras vanguardas modernistas e, ainda assim, de forma bem pontual. Com muita dificuldade, estas mulheres vão conquistando um espaço no terreno social onde circulam os homens. A participação feminina que chegou a produzir diferença no campo da arte é ainda muito mais recente. Por exemplo, se tu leres os depoimentos de uma artista como a Eva Hesse (norte-americana de origem judaico-germânica que morreu muito jovem no início dos anos 1970) verás que ela convivia com companheiros de geração ligados ao Minimalismo e Pós-minimalismo, pessoas que tinham uma “cabeça aberta”, ligadas a movimentos sociais, políticos, culturais e comportamentais de vanguarda nos anos 1960. A Eva Hesse depôs, diversas vezes, sobre a enorme dificuldade de ser levada a sério por estes homens. Percebemos que não era fácil atuar em pé de igualdade com os colegas do sexo masculino... Avançando um pouco mais, se pensarmos na conquista de uma equivalência de oportunidades e de participação da mulher nas narrativas históricas produzidas sobre a arte, veremos que esta conquista só se dará recentemente, no período que coincide com a arte contemporânea, quando as narrativas históricas tradicionais entraram em crise. Os modelos de narrativas históricas usados até a metade do século XX, que tinham uma perspectiva evolucionista, entram em crise e nós ainda não entendemos bem como vamos relatar os episódios mais recentes. É neste período, da crise das narrativas, que a mulher alcança uma participação mais equilibrada, não só na produção, mas na visibilidade desta produção e, espera-se, no relato sobre esta produção.
Quanto à pergunta que tu colocas - se temos uma dívida historiográfica com as artistas mulheres do passado, é uma questão delicada porque não creio que as sociedades passadas se constituíram sobre uma base dualista, dicotômica e antagônica entre dominador e dominado. É um arranjo. Toda sociedade, para sustentar determinado modelo vigente durante um largo período (como o modelo em que o papel masculino é dominante em relação ao feminino), necessita operar, em algum grau, de acordo entre as partes, caso contrário, ela não se manteria. Que acordo foi esse? Em que base essa dominação se constituiu? O que era considerado “arte” em épocas passadas? Por que a arte estava absorvida no universo masculino do fazer, destinando a projeção e a recompensa social à figura do artista homem? Há muita coisa aí que a sociologia investiga e que certamente vem à luz como complexidades sociais. Não podemos tomar o consenso contemporâneo em torno da necessária igualdade de tratamento dada a homens e a mulheres que produzem arte e projetar esse modelo para narrar a história da arte do Renascimento, por exemplo. Mesmo que tenha havido mulheres artistas naquele período, elas não detinham as mesmas aspirações, os mesmos projetos, ambições artísticas e sociais que as mulheres atualmente têm. Elas lidavam com uma noção de arte e de artista muito diferente da nossa, não havia a noção contemporânea de “campo da arte” e mundo da arte. As noções de homem e de mulher como figuras sociais também eram outras. Então, creio que não seria produtivo aspirar a corrigir os erros das narrativas históricas anteriores, ao propor uma narrativa histórica que tome um ponto de vista que não se encaixa na realidade social do momento narrado. Será que existem erros a serem reparados?
IW: Esta reivindicação pela inserção da mulher dentro da narrativa histórica da arte desembocou em diversas iniciativas, como o National Museum of Women in the Arts. Entretanto, também há críticas de que atitudes como esta do NMWA passam a ser sexistas. Como tu vês o diálogo entre estas duas vertentes de pensamento?
MHB: Pessoalmente, apesar de reconhecer algumas contribuições, não sinto entusiasmo por abordagens críticas, historiográficas ou curatoriais calcadas em gênero. Pensando no meio artístico internacional contemporâneo, pergunto: quais são as dificuldades, impedimentos ou fragilidades que as artistas mulheres vivenciam por serem mulheres? Não me parece que estas dificuldades sejam importantes, pelo menos não no nosso país e em democracias consolidadas. Por isso, não gosto desta divisão, pois não entendo quais problemas ela necessite corrigir. Por outro lado, talvez pudesse ser interessante um museu dedicado a um mapeamento da arte de épocas passadas, onde não existiu um contexto social que permitisse visibilidade para a produção artística feminina que porventura existisse. Talvez pudesse ser interessante examinar a influência que estas mulheres possam ter tido sobre o círculo de artistas homens contemporâneos, buscando resgatar e estudar a produção dessas mulheres e situá-la em relação àquela que “entrou na história”. Talvez exista algo parecido com isso, eu desconheço, um museu das mulheres artistas do século XVI ao XIX, por exemplo. Isto me parece uma coisa interessante. Mas dedicar um museu a mulheres artistas atuantes hoje... Não vejo sentido nisso, embora não me oponha. Se existe, tudo bem. Mas não vejo justificativa; como artista, eu não gostaria de estar em um museu apenas por ser mulher.
IW: E falando especificamente sobre produção artística, como tu vês estes diálogos entre sensibilidades femininas e masculinas?
MHB: Eu concordaria que, sim, a sensibilidade feminina imprime a sua marca na produção artística. Entretanto, penso que a sensibilidade feminina não é algo exclusivo de mulheres, assim como a sensibilidade masculina também não é exclusiva de homens. Nos indivíduos, as sensibilidades têm gradações ou uma composição gradativa. Então, vamos ter algumas mulheres que, em alguns aspectos – seja da intelectualidade ou da afetividade – têm uma afinidade com a sensibilidade masculina, e homens que, em alguns aspectos, expressam uma sensibilidade feminina. O que quero dizer é que existem, sim, as duas formas: a que chamamos de sensibilidade masculina e a sensibilidade feminina. Claro que vamos deixar para os sociólogos e psicólogos sociais discutirem se estas sensibilidades são natas ou construídas. Eu, intuitivamente, tendo a acreditar que elas são bastante construídas, mas, também, correspondem a algo da natureza da gente, que vem com a gente.
IW: Como tu vês a produção artística feminina contemporânea? Tu vês traços comuns, características específicas? Algum nome que tu destacas?
MHB: Um trabalho que eu tenho gostado muito é de uma artista mexicana, a Natalia Almada, que tem origem no cinema documental e vem sendo convidada para participar de exposições e de bienais de arte contemporânea. Ela tem menos de 40 anos e o tipo de documentário que ela faz, pelo ritmo estendido, pela sensibilidade, pela participação de um olhar intuitivo que não é assertivo – preto ou branco, bom ou mal – possui algo nítido da sensibilidade feminina de que falamos. Isso fica muito claro em um filme que ela apresentou na Bienal de Veneza, chamado El Velador. Ali, ela aborda um universo que só existe em função de um segmento muito masculino da sociedade mexicana, que é basicamente constituído por homens muito violentos, o segmento do narcotráfico. Acho que o olhar feminino está na delicadeza com a qual ela se aproxima do tema: um cemitério de narcotraficantes em uma cidade próxima à fronteira com os Estados Unidos, ou seja, uma zona muito conflituosa, violenta. O que aconteceu foi que acabou nascendo uma cidadezinha em torno deste cemitério, pois o número constante de enterros gera muita demanda de serviços variados: pedreiros, músicos para cortejos, faxineiros. Os traficantes constroem túmulos enormes e as gangues disputam em opulência. A Natalia Almada filma com uma câmera praticamente parada, que acompanha 24 horas da rotina do cemitério, desde o momento em que o zelador chega para o turno da noite, até o final do dia que corre entre seus turnos de trabalho e, novamente, quando ele retorna no próximo entardecer para novo turno. Com uma observação delicada, não invasiva e que não julga o que a câmera vai registrando, ela mostra que, mesmo em um lugar como este, que é resultado de uma das coisas mais terríveis que temos hoje em termos de conflito, também há vida, sentimentos reais e intensos, relações, apostas, projetos e tarefas a serem cumpridas.

Durante o filme, nos sentimos emocionados pela morte de tantos jovens, um verdadeiro massacre juvenil, e não há espaço para pensamentos pré-fabricados como “morrem porque se envolvem com o crime” ou “são vítimas, mas, também, assassinos”, etc. Não há julgamento porque estamos expostos à morte bruta. A dor que os familiares expressam à beira das sepulturas é legítima e merece nossa compaixão, como qualquer outra. Ela mostra um universo cheio de vida em torno da morte, de pessoas que trabalham com isso, crianças que brincam com isso, vendedores ambulantes, o horizonte de quem trabalha ali construindo túmulos... É um universo. O tipo de abordagem é materno no sentido de que tudo cabe. O que é humano cabe. Eu acho que também vemos em alguns trabalhos femininos uma flexibilização daquelas preocupações formais onde os homens tendem a ser mais rigorosos e fascinados por uma estrutura, uma forma, por problemas da linguagem. As mulheres têm um entendimento de conteúdo, um interesse pelo conteúdo que é muito característico, enquanto os homens, pelo menos os que eu conheço, têm um prazer muito concreto com a forma. A meu ver, é o conteúdo que abre a possibilidade de nascerem formas. Seja a forma que for: da pintura, do vídeo, da escrita, da caminhada. Eu gosto desta diferença, que é bem clara, entre mim e o André Severo, na parceria que temos no projeto Areal. Na produção artística em geral, as mulheres tratam as obras com certa permissividade, permitindo que seus trabalhos sejam atravessados por assuntos, meios, contextos ou formas que até há pouco eram estrangeiros. É uma permissividade boa, não é ruim. Não quero dizer que o homem seja rígido, não é isso. O homem é apenas mais assertivo, ele aponta, direciona e dirige a obra. Ele precisa do marco que a obra e a autoria representam. Isto, claro, não é regra. Não é em todos os momentos que podemos ver isso claramente.
IW: Em um texto da exposição Manobras Radicais, Paulo Herkenhoff e Heloísa Buarque de Hollanda falam sobre a Lygia Clark como a mulher que fez, verdadeiramente, esta manobra radical no sentido de ir a fundo e operar estes movimentos bruscos, digamos, no campo da arte. Um papel que, muitas vezes, é atribuído à Tarsila do Amaral. Tu concordas com este protagonismo da Lygia Clark?
MHB: Penso que há várias coisas aí. Em primeiro lugar, sem dúvida, a obra da Lygia Clark é definitiva para entendermos a virada produzida pelo neoconcretismo na arte brasileira. O neoconcretismo abriu a possibilidade de que outra arte surgisse logo em seguida, e era tão diferente da anterior que poderia até ter outro nome, nem ser chamada de arte. Esse fenômeno se dá no plano internacional: artistas de todos os lugares estão descobrindo que a arte pode ser tão diferente, tão “para além” do que se entendia por arte até então, que quase nem é mais arte. Lygia Clark é uma das artistas que fez esta outra arte ser possível. Eu acho, contudo, que o papel histórico dela vai ser balizado pelo conhecimento mais profundo que estamos tendo recentemente da obra da Lygia Pape. À medida que se conhece mais, Lygia Pape vai crescendo e deve crescer muito, ainda. Ela tem o vigor e a força da Lygia Clark, embora sejam trajetórias e obras bem diferentes. Lygia Clark, enquanto age em nome da arte, é definitiva para a relativização do que poderia ser a arte para além de qualquer suporte, assim como para a valorização da experiência, de uma integração, uma compreensão holística - para usar um termo bem precioso para a geração deles. Penso nos motivos pelos quais se acabou enfatizando mais a Lygia Clark em relação à Pape que, como ela, fez experimentos fenomenológicos, trabalhou na rua, interferiu no espaço da realidade, mexeu com gesto e corpo, individual e coletivo.

IW: Quais tu achas que seriam estes motivos?
MHB: Creio que o fato de Lygia Clark e Hélio Oiticica terem morrido há mais tempo (ambos morreram nos anos 1980) permitiu que surgissem como representantes do tipo de investigação que caracterizou o Tropicalismo nas artes plásticas, a descoberta do corpo, a revolta e a relativização dos suportes. Lygia Pape participou de tudo isso também, mas seguiu viva e atuante até o início do novo milênio. A historiografia e as pesquisas realizadas na década de 1990 jogaram uma luz muito mais forte sobre aqueles que já deixaram um corpo definitivo de obras, como o Hélio Oiticica e a Lygia Clark, do que sobre a companheira de geração que veio a falecer recentemente. Agora, a partir da grande retrospectiva da obra de Pape que andou pelo mundo e que esteve na Pinacoteca do Estado de São Paulo – uma linda exposição! – a gente está conhecendo esta Lygia fantástica. Esta Lygia Pape dos filmes, a Lygia Pape do Divisor, das ações, da fotoperformance. E mais: a Lygia Pape “artista plástica” contemporânea do Hélio Oiticica e da Lygia Clark, “artistas plásticos” no sentido mais tradicional, na fase concreta e neoconcreta que os três viveram de forma muito completa, uma fase de potência, maestria visual e plástica mesmo, no sentido de transformar a matéria expressivamente. Penso que a Lygia Clark vai deixar de ser uma estrela solitária no universo das mulheres, e vai ser resgatada esta companheira que, na época, já estava ali.

Depois dos experimentos mais radicais, no início dos 1970, Clark teve mais 10 anos de produção, período que ela própria problematiza e não queria que chamassem mais de arte, mas de cura. Acho isso de uma clareza maravilhosa e corajosa! Já a Lygia Pape continuou entendendo sua obra como arte – e sua qualidade não caiu, manteve um belo trabalho, sempre fresco, até o fim. O importante é pensar que Lygia Clark não estava sozinha. É interessante rever o papel de uma artista como a Carmela Gross, que era bem mais jovem do que estas duas, mas já atuava nos anos 1960. Tem a Letícia Parente que fez experimentos com a bodyart, performance e vídeo. O papel fundador da Ana Bella Geiger de ter sido não só uma artista de vanguarda, mas também uma mestra, alguém que, durante a ditadura, abriu frente para jovens artistas trabalharem experimentalmente no ateliê do MAM do Rio de Janeiro.
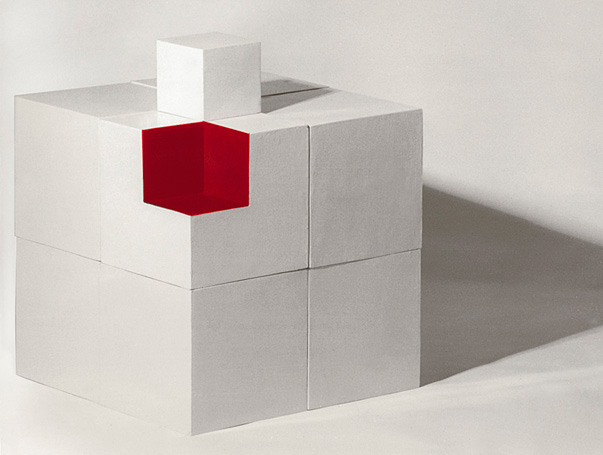
IW: E em relação à Tarsila nesta conjuntura histórica?
MHB: Quanto à Tarsila, eu discordo que ela não tenha sido radical. Acho-a extremamente importante. A Tropicália, por exemplo, é o ponto de condensação e erupção do pensamento de uma geração de músicos, performers, designers de moda, poetas, cineastas, etc., que encontra neste termo “tropicália”, uma verdade brasileira antropofágica, a reivindicação de uma arte brasileira e não xenófoba; uma brasilidade que não é ufanista, uma brasilidade aberta. Como é autêntica, verdadeira, pulsante e potente, esta brasilidade necessita ser aberta e antropofágica, ela só cresce. E isso tudo só se dá com clareza porque eles releram Oswald e Tarsila. A geração de Oiticica, Clark e Pape relê Oswald de Andrade através do Manifesto Antropofágico – resultado da grande revelação que ele teve diante do Abaporu, da Tarsila. A noção da antropofagia já estava norteando a produção da Tarsila desde as primeiras telas da fase Pau-Brasil, de 1924. Também lá Oswald compôs um manifesto a partir do impacto que as pinturas da mulher, Tarsila, exerciam sobre seu entendimento dos caminhos do modernismo brasileiro. Ali, ela mostrava que poderia trazer o futurismo para sua pintura, que poderia trazer o cubismo, processar o orfismo, assim como na fase antropofágica ela processou o surrealismo. Em 1924, Tarsila estava processando todas as informações que recebeu da vanguarda parisiense com o conteúdo e a temática brasileira e uma forma única. A forma Pau-Brasil. Não é cubista, futurista ou orfista. Não é uma reconstituição erudita de uma pintura naïf brasileira. É Pau-Brasil. Ali, a antropofagia já “está” como princípio essencial e formativo. Está processando a criação. A antropofagia só vai ser processada intelectual e verbalmente na sua completude em 1928. Mas já estava no Pau-Brasil. Eu acho a Tarsila uma grande virada, sim. Aí, temos outra artista magnífica, a Anita Malfatti. Eu vibro mais, em termos de afinidade pessoal, com a arte da Anita do que com as pinturas duras da Tarsila. Mas a Tarsila me assombra. Até me sinto um pouco desconfortável com aquelas pinturas que parecem feitas a vácuo. Aquelas formas definidas, uma coisa contra a outra, aquele azul árido que não sei como ela conseguiu. Chega a ser quase desagradável em alguns momentos.
IW: Um pouco perturbador.
MHB: Exatamente. Claro, como já não somos modernistas não diríamos que, por isso tudo, Tarsila é melhor do que Anita. Não se trata disso. Anita elaborou de forma muito pessoal as influências que recebeu das vertentes europeias. Estas influências são muito claras na obra dela – encontramos facilmente na obra da Anita o fauvismo e o expressionismo. Mas, com a Tarsila, não temos como saber. Não é o futurismo. Não é o cubismo. Não é naïf. Não é surrealismo. É Pau-Brasil. É antropofagia. Sim, a Tarsila flanava com o Oswald em Paris, em São Paulo. Ok, verdade. Mas ela não escondia sua origem oligárquica. Ela mesma contava que a pintura “A Negra” tratava de uma história que os negros contavam na fazenda do avô dela sobre as escravas que, de tanto carregarem os filhos pendurados mamando, ficavam com o seio bem esticado. Então ela pinta aquela negra com o seio jogado para trás do ombro. Tarsila e Oswald eram intelectuais de esquerda e Tarsila segue esta filiação para o resto da vida. Não é uma mulher fútil, mesmo com uma origem social definida na elite paulista.
IW: Tu achas que a historiografia tradicional ainda sofre com esta questão de completude, de querer encontrar um cenário fechado, um protagonista fixo, como se isto fosse estar devidamente orquestrado? Pergunto porque, em algumas bibliografias sobre gênero, parece haver uma vontade de um discurso completo, uma forma correta de ver a questão, embora estas formações estejam em constante construção e desconstrução. Como tu vês esta questão da historiografia e das narrativas atuais?
MHB: Pois é, eu acho que a historiografia tradicional ainda se apega a isso. É bem de sua característica esta formatação em capítulos discursivos específicos, personagens principais que saíram de um ponto e chegaram a outro. Entretanto, a historiografia está atravessando uma autocrítica muito forte. Nós não sabemos bem quais vão ser as escolas, se é que vai haver escolas ou vertentes preponderantes na narrativa histórica da arte contemporânea, por exemplo. Eu tenho muita curiosidade de saber, daqui a 30 anos, o que se terá escrito sobre a arte do final do século XX e da primeira década do século XXI. Acho que os historiadores estão com medo de serem considerados retrógrados ao narrar a arte contemporânea como um andamento dos anos 1960 até agora, porque já se criticou muito este tipo de historiografia, calcada em um evolucionismo e determinismo historicista. Talvez nós devêssemos olhar mais para as exposições. Não que eu pense que elas determinem, ou que ali esteja a verdade sobre a produção artística; mas algumas exposições históricas foram muito emblemáticas. Por exemplo, a Bienal de São Paulo de 1985, que teve como curadora Sheila Leirner, tinha o eixo curatorial apelidado de A Grande Tela, em que a curadora realizou uma metacrítica. Ou seja, a própria exposição, a forma como foi museografada, acabou conduzindo os olhares de forma crítica para a produção que era exposta – a pintura dos anos 1980. Aquela foi uma exposição que chamou atenção para a primeira leva de obras globalizadas. Pela primeira vez, a arte realmente se mostrou globalizada. Em São Paulo, fazia-se a mesma coisa que se fazia em Tóquio. Do mesmo tamanho, com a mesma intensidade de gestos.
IW: Tu tens este envolvimento denso com a história da arte. Como surgiu essa aproximação até a consolidação dos cursos da Arena, pelos quais tu és amplamente reconhecida?
MHB: Eu tive uma experiência bem juvenil de uma escola independente com outros artistas colegas do Instituto de Artes da UFRGS. Era como se fosse um ateliê onde dávamos aulas de desenho, pintura, etc. Eu trabalhava com desenho e história da arte com alunos adultos. Sempre gostei muito de história da arte. Havia outro colega que dava aulas de serigrafia, que naquela época era “febre”. Outras colegas trabalhavam com crianças. Isto foi entre 1989 e 1992. Depois disso, deixei de dar aulas, fui ter outras experiências. Fui para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, cheguei a fazer concurso, mas pedi demissão. Depois, dei cursos pelo estado, de forma a ganhar algum dinheiro. A possibilidade que eu tinha diante de mim era dar aulas, mas eu nunca pensei em fazer uma pós-graduação para dar aulas na universidade. Eu não tinha vontade e achava que era um compromisso muito grande de horário e de envolvimento. Meu marido é professor na UFRGS e isto eu não queria. Não me daria muita mobilidade e se eu fizesse uma pós-graduação, iria cair na tentação de fazer um concurso em um momento de incerteza. Então já não fiz pós-graduação pensando nisso.
Durante bastante tempo, com os projetos artísticos e com a era dos editais, a partir de 1995, havia esta possibilidade também de ganhar um cachê aqui, dar uns cursos ali, e era assim que eu seguia. Em 2004, eu tinha esse tipo de mobilidade, mas precisava sempre “inventar a roda”. Terminava um trabalho e já tinha que criar outro. Além disso, a produção de projetos também é desgastante, começa a te cansar em certo momento. Em 2004, paramos a vida aqui e fomos para a França, pois o Fernando, meu marido, foi fazer o doutorado em Paris. Então eu pude me dedicar exclusivamente ao estudo. Livremente. Não estudei em escolas, estudei por minha conta, via as coisas que eu queria ver e lia os livros que eu queria ler. Voltei de lá com muita bagagem e que tinha relação com coisas que eu fazia como artista no Areal.
Todo este conhecimento que eu adquiri, que eu traduzi, toda estas coisas que eu vi lá e que ainda não estavam circulando aqui, fizeram-me propor um curso – até para eu sentar novamente no Brasil e retomar o trabalho que eu vinha desenvolvendo aqui antes. Então eu propus um curso na Koralle, em Porto Alegre, que se chamava “A História da Arte pelos Artistas”. Dei um: lotado. Dei outro: lotado de novo. E aquilo virou um curso permanentemente oferecido durante dois anos. Sempre havia gente. Era muito baseado em escritos de artistas, eu trouxe muitas informações sobre o Situacionismo, pois, na época, só havia um livro em português publicado naquele mesmo ano a respeito deste assunto. Neste curso, muitos alunos do Instituto de Artes da UFRGS me procuravam porque já me conheciam pela atuação no Areal, e me conheciam muito por ser uma artista que fala e escreve. Então, pela escrita, por aquilo que eles entendiam que eu tinha, talvez certa clareza em relação a meus processos artísticos somada ao conhecimento em História da Arte, os alunos começaram a me pedir para prepará-los para a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então comecei a fazer isso paralelamente, mantinha grupos de orientação na minha casa. Comecei a me reconciliar com a ideia de dar aulas. E, com os grupos crescendo, tive que achar uma solução para o local de trabalho. Paralelo a isso, sempre mantive um estudo contínuo em história da arte. Isto vem desde antes de entrar na faculdade, pois sempre gostei muito do assunto e estudei de forma contínua. Eu estudava pra mim, gostava de todos os períodos. Estudava porque gostava. Terminei a faculdade e continuei estudando.
IW: E tu fazias isso procurando livros?
MHB: Sim, procurando livros, indo atrás de referências, relendo autores, um artista levando ao outro e sempre revendo todos os períodos da história. Então eu tinha uma bagagem de estudo bem ao meu gosto, sem me preocupar em sistematizar aquilo para uma comunicação. Em 2005, já tínhamos a ONG Arena juridicamente. E como precisávamos de uma sede, aconteceu de comprarmos uma sala que virou o espaço da Associação Arena e também um espaço que eu usava para as aulas. Então, o surgimento da Arena Cursos vem desta necessidade de espaço e de conjunção com a Arena que já existia como ONG. Antes de ter a sede, cheguei a ter cinco grupos vindo aqui em casa, cada grupo com 7 alunos. Era uma loucura. Quando inauguramos a sede, já tínhamos um bom número de pessoas que nos conhecia. Claro, precisávamos pensar no que queríamos com aquilo, pois não era nossa intenção fazer daquilo uma antessala da universidade, como os cursos pré-vestibulares. E foi assim que surgiu a Arena Cursos. Com a sociedade com a Melissa Flores, trabalhamos a ideia de desenvolver cursos regulares em História e Teoria da Arte, de trazer outras perspectivas e compartilhar artistas, leituras, visões, construir abordagens, comunicar um enfoque particular sobre a arte.

